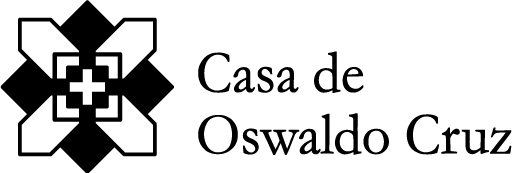No despontar da Segunda Guerra Mundial, o cientista norte-americano Ernest Lawrence (1901-1958), Nobel de Física em 1939 pela criação de um tipo de acelerador de partículas, anunciou que construiria um modelo mais potente do equipamento, em nome dos esforços de guerra. Com isso, seria possível produzir átomos com excesso de energia, os radioisótopos, fundamentais na produção das bombas lançadas pelos Estados Unidos no Japão, em 1945. Os artefatos iniciaram a Era Atômica e evidenciaram a contribuição da ciência no conflito.
Os radioisótopos, ou isótopos radioativos, começaram a ser produzidos artificialmente em larga escala no âmbito do Projeto Manhattan, que reuniu cientistas nos Estados Unidos para a construção das primeiras bombas atômicas. Vinculados às ferramentas experimentais, ao financiamento da radiação e de reatores nucleares e, por tabela, à destruição e às mortes causadas pelos artefatos detonados em Hiroshima e em Nagasaki, os radioisótopos depois adquiriram um status pacífico e benéfico, ao serem usados em variadas aplicações na medicina e na biologia.
“Os radioisótopos se disseminaram pelas ciências da vida, ganhando uma dimensão bastante importante, sobretudo por conta de um trabalho de diplomacia científica, que transformou a imagem negativa da energia nuclear, das bombas, da física atômica – considerada a ciência da morte porque produzia as bombas -, em algo que seria positivo. O atômico como fonte de vida”, observa o historiador Jorge Tibilletti, que analisou a incorporação dos radioisótopos na pesquisa biológica brasileira ao longo da segunda metade do século 20, em tese do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS) da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), com orientação de André Felipe Cândido da Silva.
No estudo, em que detalha mudanças trazidas por esses objetos tecnológicos na rotina dos laboratórios, nas práticas e nas metodologias científica e nas prioridades da biologia brasileira, Tibilletti revela as conexões existentes entre a história da energia nuclear, a institucionalização das ciências biológicas e a história da ecologia no Brasil. Ele revela como a agenda de pesquisas surgida com o uso pacífico da energia atômica, a partir de métodos radioisotópicos e da aplicação desses elementos no mundo vivo, acabou se transformando em estudos sobre metais pesados em diferentes ecossistemas no Brasil.
Após investigar um numeroso e variado conjunto de fontes e realizar entrevistas de história oral com atores fundamentais na trajetória dos radioisótopos no Brasil, Tibilletti argumenta que “a história dos radioisótopos na pesquisa biológica brasileira culminou na constituição de alguns dos primeiros estudos de ecologia de ecossistemas feitos no Brasil”. Segundo ele, os radioisótopos também estão associados aos estudos pioneiros sobre a contaminação por mercúrio na Amazônia.
Revolucionário como o microscópio
Quimicamente idênticos aos seus análogos estáveis encontrados na natureza, os radioisótopos têm como diferencial a radiação emitida. Com isso, podem ser rastreados por meio de métodos de detecção da radioatividade, possibilitando acompanhar a absorção e o trajeto de materiais em diferentes organismos e ecossistemas. A novidade causou um grande impacto, inicialmente nas áreas da bioquímica e fisiologia e, em seguida, na medicina, agronomia, ecologia e biologia molecular. Diante de seu teor revolucionário, o novo objeto tecnológico foi comparado ao microscópio, por possibilitar a visualização de processos antes imperceptíveis, relata o historiador.
“Servindo para revelar reações químicas no metabolismo, rastrear o movimento e a atividade dos hormônios, acompanhar a replicação e expressão dos genes, detectar tumores, ou entender a ciclagem de nutrientes e poluentes nas partes vivas e não-vivas de ambientes aquáticos ou terrestres, ou dando um significado concreto à noção de ecossistema, os radioisótopos são elementos bastante significativos para pensar no papel que objetos tecnológicos e instrumentos científicos têm na conformação de novos conhecimentos na história das ciências”, escreve Tibilletti.
No Brasil, centros de pesquisa começaram a usar ferramenta nos anos 1940
Os radioisótopos passaram a circular mais intensamente, para além das fronteiras norte-americanas, por meio de acordos bilaterais ou multilaterais. No Brasil, que já fornecia minérios radioativos para os Estados Unidos desde o início dos anos 1940, eles começaram a fazer parte da prática de cientistas brasileiros por meio de programas como o Átomos para a Paz, de incentivo ao uso pacífico da energia nuclear, além de interesses do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Na mesma década, surgiram os dois primeiros centros de pesquisa a usar radioisótopos em problemas médicos e biológicos no Brasil: o Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), criado em 1945 pelo cientista Carlos Chagas Filho; e Laboratório de Isótopos da Universidade de São Paulo (USP), depois Centro de Medicina Nuclear (CMN), que abriu as portas em 1949.
Construção da expertise levou pesquisadores de Angra à Amazônia
Na tese, Tibilletti descreve como o potencial dos radioisótopos foi amplamente aproveitado no Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofísica e como se deu a transição para o estudo de metais pesados. Convidados a estudar os possíveis riscos de efluentes radiativos das instalações nucleares em Angra dos Reis, no litoral fluminense, os pesquisadores adquiriram expertise e depois adaptaram a metodologia então usada, análise de parâmetros críticos, na investigação por contaminação em sistemas aquáticos de outras regiões no Estado do Rio de Janeiro, como as baías de Guanabara e Sepetiba e o rio Paraíba do Sul.
“Quase no escuro, eles procuraram entender como a contaminação por metais pesados se dava. Não existiam trabalhos sobre isso. Há essa guinada de transformar tecnologias nucleares em tecnologias para trabalho com qualquer tipo de contaminação por metais pesados”, conta o historiador.
No estudo, ele descreve o papel do Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofísica na elucidação do problema do mercúrio na Amazônia. As investigações em áreas de garimpo iniciaram entre 1985 e 1986, com análises próximas a Porto Velho e que se estenderam ao longo de quase toda a Baía do Rio Madeira, além de Mato Grosso do Sul, Rio Branco e o complexo da Serra de Carajás, no Pará. Naquele período, a corrida do ouro na Amazônia estava no auge. As medições eram realizadas seguinte as metodologias adotadas nos rios e baías analisadas no Rio de Janeiro.
Contaminação na água e no ar
Na mineração, o mercúrio metálico é usado inicialmente para reunir o ouro, que está disperso em pequenas partículas entre os solos e os sedimentos. Depois, para separar os dois metais e conseguir o ouro puro, queimam a amálgama. Com isso, o mercúrio se liquifica e evapora para a atmosfera. Além disso, nos rios, o mercúrio se transformava em metilmercúrio (CH3Hg), substância solúvel considerada pelo menos 100 vezes mais tóxica que sua forma metálica. Ao contaminar os peixes, por exemplo, pode chegar, via cadeia alimentar ao ser humano, onde, preferencialmente, concentra-se no sistema nervoso central, causando graves problemas neurológicos.
Segundo Tibilletti, quando os pesquisadores iniciaram as análises na área de garimpo na Amazônia não se conhecia a volatilização do mercúrio para a atmosfera, nem o processo de ‘metilação’, que transforma o metal em metilmercúrio. No primeiro artigo do grupo do Laboratório de Radioisótopos, publicado em 1988, os pesquisadores relataram perda de mercúrio nos rios e na atmosfera e concluíram que a área amazônica contribuía com cerca de 1% “do total de emissões globais e com cerca de 6% das emissões antrópicas”. “Os resultados expostos pela primeira vez pelo grupo em uma publicação, alertavam para a possibilidade de “uma ameaça real de contaminação por mercúrio ao meio ambiente amazônico, uma vez que caso ocorra contaminação da pesca local, grande parcela da população local seria afetada””.
O tema dos metais pesados nos ecossistemas aquáticos era muito pouco conhecido quando os trabalhos do grupo se iniciaram. O grupo publicou em inúmeros periódicos internacionais, como a Nature, e nacionais, adotando “um tom de denúncia da situação, enquanto expunham novos conhecimentos a respeito do ecossistema amazônico e da ciclagem do mercúrio”, escreve Tibilletti, que está elaborando um projeto de pós-doutorado sobre a aplicação da energia nuclear na agricultura. Nos planos, há também a publicação da tese em livro, sugestão da banca.
O protagonismo alcançado pelos radioisótopos foi perdendo força com a chegada de novas dinâmicas de infraestrutura dos laboratórios e novas tecnologias, assim como uma queda no interesse pela energia nuclear, antes considerada uma solução para os problemas de energia do mundo.